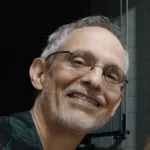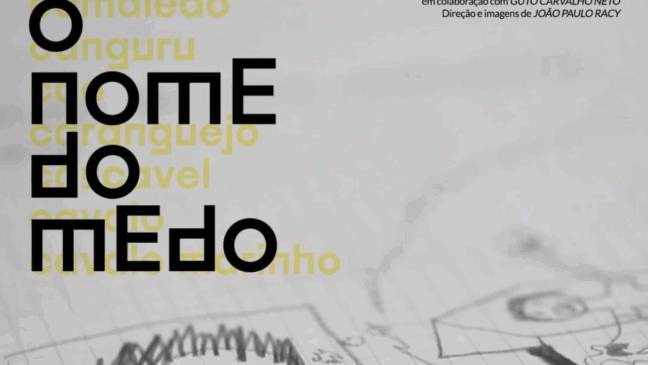Há poucas semanas escrevi nesta coluna um artigo a afirmar que os programas de inteligência artificial não são capazes de conceber arte. Coloquei-me em oposição a muitos discursos atuais, que atribuem esta capacidade a tais programas, a ponto de tratá-los como coautores.
Ora, isso é confundir concepção com produção e autoria com processamento. Usei a narrativa um tanto óbvia, segundo a qual tais programas não são capazes de celebrar triunfos nem de se enlutar por perdas; não se angustiam com as incertezas da vida nem com a única certeza – que é a morte; não precisam nem podem fazer escolhas existenciais, tampouco carregar o peso da responsabilidade por tais escolhas. Na falta desses atributos, que definem basicamente a condição de sujeitos humanos, tais programas podem ser, no máximo, ferramentas, jamais coautores. Este foi o argumento, em síntese e com outras palavras.
Agora, num segundo artigo sobre o mesmo tema, gostaria de aprofundar o raciocínio a partir da noção de obra de arte. Esta consiste numa poderosa unidade orgânica, que remete a si mesma ao mesmo tempo em que fala do mundo exterior e da diversidade da existência, de modo sempre matizado de tonalidades afetivas. Ela impressiona pela própria presença e propõe significados a respeito do vasto mundo que lhe é exterior. Assim é com uma sonata de Beethoven, uma tela de Cézanne ou uma peça de Shakespeare, para citar apenas alguns exemplos, entre muitos possíveis.
As obras de arte são proposições poéticas, que ajudam a conviver com o dilema insolúvel da vida, ao oferecer perspectivas de significação como alternativas à brutalidade, à loucura e à mera insignificância. Um réquiem, por exemplo, não elucida o enigma da morte, não trás o morto de volta, nem garante que ele vá para bom lugar – se é que ele vai para algum lugar. Ao invés disso, cumpre a função inegavelmente importante, ainda que mais modesta, de ajudar os que ficam a simbolizar a perda e organizar os afetos.
Ainda que tenha beleza e engenho, a obra de arte não se define nem por um nem por outro. O canto do pássaro é bonito, a casa do castor é engenhosa; mas eles não são arte, apenas fazem parte da natureza pelo que a natureza é. Por isso, não se pode comparar a sonata de Beethoven com o canto do rouxinol. Este, por bonito que seja, não é mais que ele mesmo, enquanto a sonata propõe-se a si mesma como presença a ser apreendida, juntamente a um significado humano ao qual está indissociavelmente ligada. Mas se o canto do rouxinol significa algo, se significa, por exemplo, que ainda é noite e que os amantes podem ficar mais tempo juntos, tal significado se deve à interpretação dada a ele por Shakespeare pela voz dos tais amantes.
Voltemos aos programas de inteligência artificial: é óbvio que o recurso a uma infinidade de dados, de meios técnicos e de modos de operá-los pode resultar em imagens bonitas e agradáveis. Isso, certamente, as inteligências artificiais podem fazer e efetivamente fazem. Mas deve-se ter o cuidado de não confundir imagem com arte, nem beleza de superfície com densidade poética. Quanto ao mero agrado, para obtê-lo basta o mero ornamento. Entregues ao seu próprio regime de programação algorítmica, as inteligências artificiais não fazem mais que reciclar padrões estereotipados e fórmulas estéticas estabelecidas, com dados e soluções que há muito fazem parte de um espesso caldo cultural.
Em síntese, a obra de arte não nasce da combinatória automática de dados disponíveis num arquivo potencialmente infinito e sim do embate necessário com uma condição de existência, a princípio, brutal e incompreensível. Ela não surge da abundância e sim da penúria, como resposta ao vazio, à falta e ao desamparo. As inteligências artificiais não concebem arte porque não podem sentir esse drama, nem possuir o arbítrio necessário para oferecer a ele uma resposta. O máximo que podem fazer, nas suas operações automáticas, é trocar a simbolização pela programação, o embate existencial pela combinatória e o significado pelo efeito.
Para concluir, voltando à afirmação inicial, no campo da arte, o papel das inteligências artificiais se apoia não numa presumida posição de autoria, mas na sua potência como ferramenta, potência esta que depende de um operador qualificado, capaz de explorá-la adequadamente para as finalidades da própria arte. Este operador, este sim, é o próprio artista.
O que tecnicamente se chama de prompt, nada mais é que uma das marcas da expertise no manejo da ferramenta, o que, no caso da arte, vai depender de aprofundamento experimental e da formação do próprio artista. Tal formação tende a ser diferente da formação dos artistas de hoje. Uma coisa, no entanto, se mantém: como sempre foi no passado, a arte a ser feita com programas de inteligência artificial, ainda que se valha de alguns atalhos, será também fundamentalmente complexa, dependerá decisivamente do repertório do artista e vai ser concebida e produzida à custa de muito trabalho.
LEIA MAIS:
>> Pode a inteligência artificial conceber arte?
>> Grafite “Coroa de Lírios” faz referência a famosa poetisa