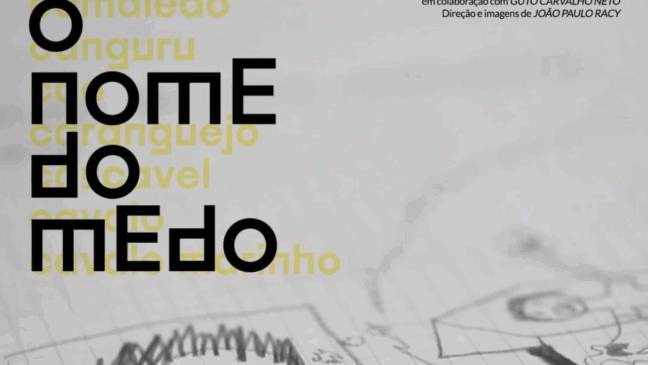Ninguém nasce pronto. Muito menos um ícone desses que atravessa o tempo e projeta suas imagens no espaço afora até o infinito. E a construção desse ícone é um renascimento, um segundo parto, portanto, uma morte também, para quem o traz à vida. Esse processo de transformação e toda força desse movimento, assim como as dores de suas consequências, podem ser vistos como que de perto, nas grandiosas cinebiografias lançadas nos últimos anos.
Como, Meu Nome É Gal, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, lançado em outubro deste 2023, ou Elvis, dirigido por Baz Luhrmann, lançado em 2022. Em ambos, como exemplo, podemos ver em cada um de seus protagonistas uma pessoa profundamente amedrontada diante dos desafios para se afirmar como artista, travando uma intensa batalha interna, confrontando seus valores, mergulhando em suas próprias sombras, para só depois extasiar-se na glória da realização.
Em Meu Nome É Gal, acompanhamos a chegada da cantora ao Rio de Janeiro, depois de deixar a Bahia, para se juntar a Caetano Veloso, Gilberto Gil e companhia. Tendo que encarar as exigências do mercado fonográfico e as pressões da televisão.
Não bastava ser só uma grande cantora, era preciso vestir-se de uma forma diferente, falar de uma forma diferente, comportar-se de uma forma diferente, em resumo, precisava deixar de ser quem era, e tornar-se o que era preciso ser para tornar-se uma grande artista. E tudo isso foi uma dor, uma agonia, um apagamento de si mesma, como se morresse, e depois renascesse. O mesmo pode ser visto no filme Elvis, um garoto apavorado diante de seu próprio poder de seduzir multidões, sendo esmagado pela culpa que sua criação cristã o fazia sentir diante de tudo que conquistava.
Os dois filmes mostram bem o desmoronamento dos laços familiares, a ruptura com o próprio passado, o medo diante da nova personalidade que surge a partir disso, e o peso que essa nova personalidade passa a ter sobre a pessoa que passa a carregá-la como se fosse ela mesma.
Para que a estrela Gal nascesse, a pessoa Maria da Graça precisou aprender a arte da atuação, a separar o que ela acreditava para si mesma, do que era necessário dizer, ou fazer, enquanto artista Gal Costa. E fez isso ao ponto de se tornar a voz da tropicália, uma das figuras centrais de um dos movimentos mais revolucionários na cultura brasileira. Essa Gal Costa icônica, que na própria Maria da Graça doeu e pesou para nascer, caiu sobre a atriz Sophie Charlote como se fosse uma capa mágica, uma veste capaz de superpoderes.
Quando um ícone chega assim tão bem resolvido ao cinema, é como se aquele herói ou heroína sempre tivesse existido daquela forma, como se fosse óbvio que ele ou ela fossem daquele jeito, afinal, eles tornaram-se irretocáveis aos nossos olhos.
Quando vemos a Gal, ou Elvis, vestidos com seus uniformes de super-heróis no camarim, querendo desistir de subir ao palco, a vontade é de gritar no cinema, vai lá, tá tudo certo, você é a Gal, você é o Elvis. Sophie Charlote deu vida a uma Gal poderosa, plena na certeza de estar coberta por uma magia mítica conquistada pela jovem Maria da Graça, e que o mundo aprendeu a amar incondicionalmente, e também deu ao espectador a experiência de assistir uma grande atriz como ela diante da impossibilidade de cantar como uma cantora da dimensão de uma Gal Costa, e ainda assim ir lá e fazer, transparecendo uma coragem que a própria Maria da Graça, então só uma grande cantora, precisou para atuar e dar à luz o ícone Gal Costa.
Para que vivêssemos a experiência de ver essa criação icônica se perpetuando no tempo, ganhando vida própria, atingindo a dimensão de um herói cinematográfico, a atriz Sophie também precisou dar vida à sua própria forma de cantar, e, possivelmente, teve que enfrentar os mesmos dilemas que a cantora Gal teve enfrentou para se tornar o ícone Gal, adentrado lugares adversos, fora de suas zonas de segurança. E isso também enriquece o filme e seu desafio em mostrar os bastidores de um ícone tão bonito e tão complexo.
O mesmo ocorre com o ator Austin Butler, que incorpora um Elvis luxuoso, mitológico, perfeito, dotado de uma autoconfiança que o próprio rei do rock parecia desconhecer, ao tornar-se dependente de medicamentos. Para o garoto Elvis, criado na igreja Batista, disposto a seguir as regras a qualquer custo, o impacto que sua figura artística teve na cultura mundial, e o peso das reações conservadoras sobre ele, o lançou num abismo que o levou à loucura.
Já com a Gal, sua luta era no caminho contrário, era para romper com sua própria cultura, com sua época, e entregar-se ao novo, ao espírito do momento, às suas próprias regras. Os dois se machucaram, cada um de seu jeito e em seu tempo, e entregaram ao mundo algo que por muitos e muitos anos brilhará diante dos nossos olhos, como um farol a nos guiar para um mundo que jamais imaginaríamos sem eles.
Leia Também: Crítica | Identidade em diálogo na 35ª Bienal de São Paulo
Esse mesmo fenômeno de morte, renascimento, eternização, a mesma saga de como se constrói um ícone, está em filmes como Bohemian Rhapsody, dirigido por Bryan Singer e Dexter Fletcher, lançado em 2018, que narra a trajetória de Freddie Mercury e sua banda Queen, ou Rocketman, sobre os dramas do cantor Elton John, também dirigido por Dexter Fletcher, lançado em 2019. É tanta vida envolvida que a pergunta do poeta Carlos Drummond de Andrade, quanto nos custa uma flor, parece ser a melhor resposta.
É imensurável o prazer de ver uma Gal rediviva, recriada, primeiro tímida, com toda dor do mundo nos olhos, tateando o mundo, depois plena, usando toda a sua dor para gerar luz, força e beleza, tudo na frente dos nossos olhos, como essa magia que só o cinema consegue produzir sobre nós.
Não tem preço ter ao nosso alcance esses símbolos com tanta intimidade. Obras assim deixam no espectador a certeza de que há um pote de ouro no final do arco-íris de quem atravessa com firmeza as próprias fronteiras.
Que dores sempre estiveram e sempre estarão por aí, mas que acima de todo bem não alcançado, ou de todo mal cometido, brilhará para sempre aquele momento em que a coragem foi maior que o medo, e a magia nasceu.