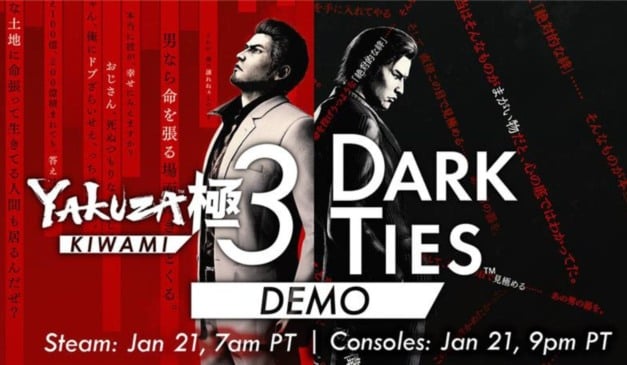Eu conheço aquela abertura de cor. Mesmo assim, quando Final Fantasy VII Remake Intergrade começou no Nintendo Switch 2, eu senti o mesmo arrepio antigo, como se a música e a câmera soubessem exatamente onde apertar. Foi um choque curioso: a cena é a mesma, mas eu não era a mesma pessoa — e a tela também não.
Tem algo quase irônico nisso. O Final Fantasy VII original foi, por muito tempo, um símbolo da separação entre Nintendo e Square. Ver esse remake rodando num portátil da Nintendo hoje parece uma daquelas voltas que a vida dá sem pedir licença. Eu fiquei ali, encarando Midgar, tentando decidir se o que eu sentia era reencontro ou despedida.
E pode ter certeza: após a espera pelo VII, lendo nas revistas na época e a súbita mudança do console, do Nintendo 64 para o PlayStation, foi o que me fez comprar o console da Sony na época.
Um remake que dança entre memória e estranheza
O que mais me pega nesse projeto é a maneira como ele parece conversar com duas pessoas ao mesmo tempo: quem chega agora e quem carrega 1997 no peito. A familiaridade vem de personagens e lugares que eu reconheço no primeiro olhar. A estranheza vem da ousadia de reconstruir, ampliar e, às vezes, cutucar a própria nostalgia.
A decisão de dividir essa reimaginação em três jogos continua sendo uma aposta enorme. Ela exige paciência, porque o ritmo muda. Cenas ganham camadas. Personagens que eram quase “fundo de palco” ganham espaço de verdade. E, no meio disso, o jogo parece me perguntar o tempo todo se eu aceito ver o mito sendo mexido.
Trinta anos à frente, os temas ainda doem
Mesmo com o aniversário de 30 anos se aproximando em 2027, eu não sinto esse enredo como algo “datado”. Pelo contrário. A desigualdade social de Midgar, o medo ambiental e o poder esmagador das grandes corporações parecem mais atuais do que confortáveis.
Cloud Strife é um ex-SOLDIER que atravessa essa cidade como quem tenta não olhar para os próprios fantasmas. Ele vira mercenário e acaba envolvido com a Avalanche, que enfrenta a Shinra. E a Shinra, com sua exploração de energia Mako, transforma o planeta em combustível — enquanto a população finge que a conta nunca chega.
E aí tem Sephiroth. Nesta reconstrução, ele não é só um antagonista; é uma presença que atravessa camadas. Ele assombra a história e, de um jeito estranho, parece assombrar o jogador também. O remake flerta com “e se…”, com sequel e com remake ao mesmo tempo, e eu entendo por que isso divide o público. Na minha experiência, a coragem dessa dança é parte do que torna o projeto mais interessante do que parece no papel.
Um time de peso e uma ambição que transborda
Eu sinto essa ambição quando lembro quem está guiando o leme. Square Enix colocou nomes centrais do time original para recontar o que, sem exagero, é um dos projetos mais importantes da empresa nos últimos anos: Tetsuya Nomura, Yoshinori Kitase, Kazushige Nojima, Motomu Toriyama e Nobuo Uematsu rearranjando as faixas.
A escolha não foi “copiar e modernizar”. A escolha foi abrir espaço para aprofundar. Jessie é um exemplo claro desse ganho de densidade. E Sephiroth deixa de ser só um sussurro nesse trecho — o mundo já o conhece como ícone, então o remake assume essa realidade.
Conteúdo: Intergrade completa, com um extra no Switch 2
No Nintendo Switch 2, eu joguei a versão Intergrade, com as melhorias de 2021 em texturas e iluminação. Também está incluído o DLC Episode INTERmission, com Yuffie como protagonista, o que reforça a sensação de “edição definitiva” desta primeira parte.
A grande novidade aqui é a modalidade com vantagem, uma espécie de pacote de acessibilidade que pode ir muito longe: permite imortalidade, dano máximo, matérias no topo e outras simplificações. O ponto importante é que dá para ligar e desligar as opções individualmente a qualquer momento. E, segundo a proposta, esse modo extra — totalmente opcional — deve chegar a outras plataformas via update.
Esse mesmo modo também é encontrado na demo de Dragon Quest VII Reimagined e é algo que eu espero muito que acompanhe todos os próximos lançamentos e remakes da Square Enix.
Ela não “barateia” a experiência; ela abre portas para quem quer só a história e não tem paciência (ou tempo, como é o meu caso) para sistemas complexos de JRPG, que por muitas vezes precisa de grinds por dias ou semanas para alcançar o necessário para passar de um boss ou área.
1080p a 30 FPS: a escolha única que define tudo
A parte técnica no Switch 2 é direta: não há múltiplos perfis gráficos como no PS5. É uma única configuração: 1080p a 30 FPS. No portátil, esse 1080p vem por upscaling via DLSS.
E aqui eu preciso ser honesto: eu fiquei impressionado. O impacto visual, especialmente na tela portátil, segura muito bem. O combate mantém a energia, os efeitos de partículas aparecem sem timidez e a Buster Sword deixando faísca no ar continua com aquele “peso” que dá gosto de ver.
Ajuda o fato de o jogo ter sido pensado para áreas menores e muitas vezes lineares. Isso segura o projeto onde ele poderia tropeçar em um mundo totalmente aberto.
Onde os cortes aparecem sem pedir desculpas
Mesmo rodando bem, o Switch 2 não esconde suas concessões. Eu notei pop-in de NPCs, com cidadãos surgindo perto demais em áreas mais vivas. Em regiões densas, isso fica claro e chama atenção.
No portátil, os personagens principais continuam com ótima qualidade de modelagem e textura. O que sofre são os detalhes finos: cabelo e elementos delicados. Em especial, a cabeleira de Cloud evidencia dithering e aliasing, aquele “serrilhado” que aparece quando o detalhe é complexo demais para o recorte disponível.
Os NPCs de Midgar sofrem mais com LOD agressivo. À distância, os modelos simplificam bastante e só recuperam detalhe quando eu me aproximo. Isso se destaca em áreas como o Mercado Murado, onde a densidade de gente e informação visual é maior.
Docked mais firme, portátil mais humano
No modo dock, o framerate fica mais estável, mesmo em trechos cheios. No portátil, eu percebi pequenas oscilações ao atravessar multidões. Não vi quedas dramáticas, mas senti aquela perda de “um passo” em alguns momentos, como se a fluidez respirasse mais curto.
Ainda assim, o resultado é agradável. Eu não tive a sensação de um port “capenga”. Eu tive a sensação de um port que sabe exatamente onde ceder para não quebrar a experiência. E isso é um mérito.
O custo real da mobilidade, para mim, foi a bateria: na minha experiência, o Switch 2 segurou por cerca de duas horas antes de descarregar totalmente. Dá para sessões boas, mas é o tipo de jogo que faz você procurar tomada sem perceber.
Veredito
Pelas falas atribuídas a Naoki Hamaguchi em entrevistas, esse port funcionou graças a ajustes específicos em pós-processamento, como neblina volumétrica, para reduzir carga de processamento, enquanto tentavam preservar a iluminação retrabalhada da Intergrade. Eu sinto essa prioridade na imagem: a atmosfera se mantém.
No fim, eu enxergo Final Fantasy VII Remake Intergrade no Nintendo Switch 2 como uma vitória técnica com um lado emocional inesperado. Não é a forma mais bonita de jogar esse remake, e eu não fingiria que 30 FPS é irrelevante. Mas é, com compromissos claros, uma forma muito convincente de carregar Midgar no bolso.
E, quando eu fecho o console, sobra a pergunta que não quer calar: se Intergrade já chegou aqui desse jeito, o que vai ser preciso para trazer Rebirth também?