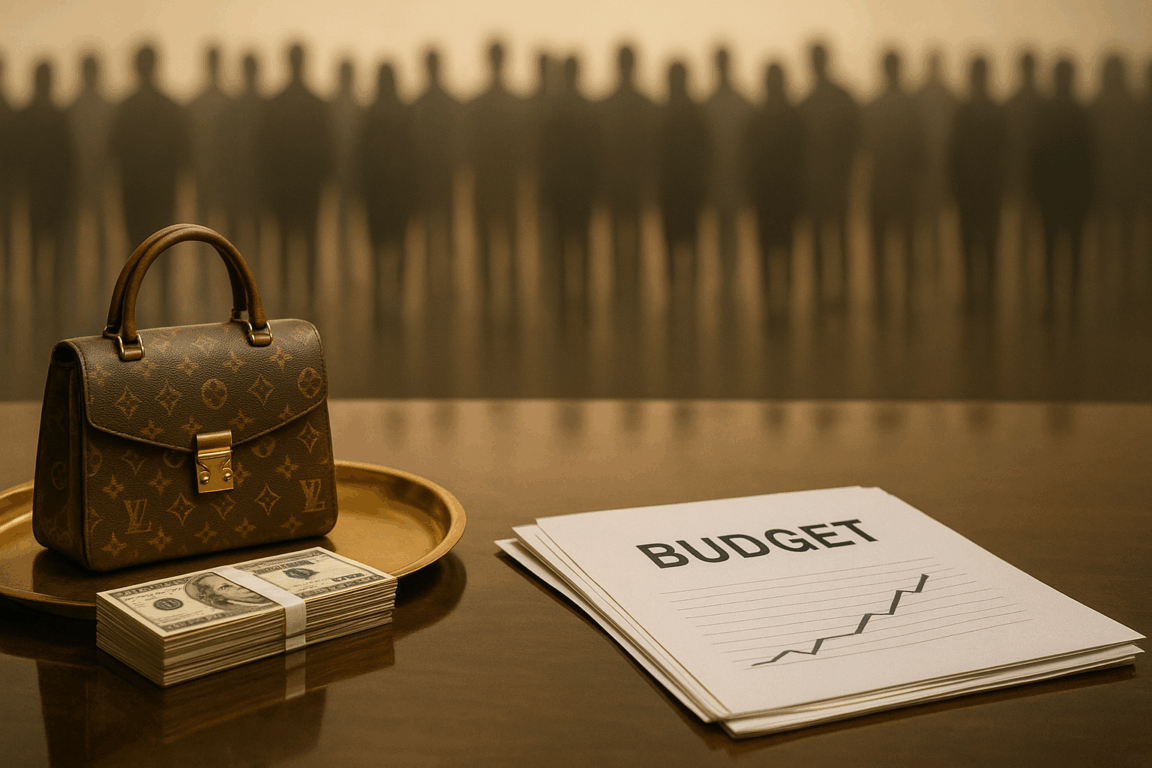
Na política, escândalos de gastos supérfluos sempre despertam indignação. Recentemente, os gastos de Janja, primeira-dama, com viagens, eventos e estruturas de apoio, provocaram debates intensos. Nesse contexto, a reação pública é de revolta diante da ostentação paga com dinheiro coletivo. Entretanto, mais do que um episódio isolado, essa situação funciona como espelho. Os gastos não são apenas reflexo de uma figura pública; são reflexo da própria sociedade que a sustenta.
O problema não está apenas no valor gasto, mas no padrão repetido. O uso do bem coletivo para fins pessoais não nasce em Brasília, nasce no cotidiano. Está no funcionário que leva material do escritório para casa, no empresário que sonega impostos acreditando que o sistema é “rico demais para sentir falta”, no cidadão que busca sempre a vantagem sem medir o custo social. A diferença é que quando a apropriação é feita por quem ocupa o poder, ela se torna amplificada e mais visível.
Desse modo, a sociedade que normaliza o “jeitinho” legitima o abuso no topo. O político eleito é produto da cultura que o escolhe. Se a maioria vota pensando apenas no benefício próprio, seja um cargo, uma bolsa, um favor ou um privilégio específico, o resultado é previsível: líderes que reproduzem exatamente essa lógica, mas em escala maior. Os gastos supérfluos do poder são, portanto, a versão ampliada do egoísmo coletivo.
Dados reforçam essa análise. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil ocupa a 104ª posição no Índice de Percepção da Corrupção (2023), atrás de países como Namíbia e Arábia Saudita. Esse baixo desempenho não se deve apenas aos governantes, mas também à conivência social. Pesquisas do Datafolha apontam que 34% dos brasileiros afirmam que “pequenas corrupções” são aceitáveis em determinadas situações. Essa tolerância cotidiana abre espaço para que, no topo, abusos ainda maiores sejam cometidos sem o devido choque moral.
Ademais, quando o alicerce de uma casa está comprometido, não é surpresa que as paredes desmoronem. Da mesma forma, quando a base da sociedade legitima o uso do coletivo para fins privados, a política apenas reproduz o que já foi ensinado no alicerce. Os gastos de Janja são apenas uma das rachaduras visíveis, mas a estrutura já estava fragilizada antes mesmo da chegada de seu marido ao poder.
Esse ciclo perpetua a escassez. Enquanto recursos são drenados para privilégios, a população continua sem serviços básicos de qualidade. O egoísmo de curto prazo, seja de um político que gasta milhões em viagens, seja de um cidadão que vota buscando apenas o próprio interesse, impede que se invista no longo prazo. Assim, a escassez não é um acidente, é consequência de escolhas conscientes e repetidas.
A filosofia liberal enfatiza a responsabilidade individual como base da prosperidade. Ayn Rand dizia que a realidade não pode ser ignorada sem custo. E a realidade é que cada vez que se escolhe a vantagem imediata em detrimento do princípio, a conta volta para toda a sociedade. Os gastos de Janja não são exceção, são sintoma. Dessa forma, o verdadeiro problema não está apenas em quem governa, mas em quem legitima o governante.
A indignação seletiva, criticar o gasto da primeira-dama enquanto se normaliza a vantagem pessoal no dia a dia, revela incoerência. É nesse ponto que a sociedade precisa se olhar no espelho: se há desejo de se ter políticos éticos, é preciso primeiro agir com ética no cotidiano. Se o anseio é por menos privilégios no poder, é necessário parar de premiar o privilégio nas urnas.
Em conclusão, os gastos de Janja são mais do que desperdício. São reflexo de um padrão coletivo, de uma sociedade que alimenta seus líderes com o mesmo egoísmo que pratica. Enquanto o voto for guiado pela busca de benefícios imediatos, a perpetuação da escassez será inevitável. Afinal, o desperdício no topo nada mais é do que a versão ampliada do desperdício que é aceito em cada.









